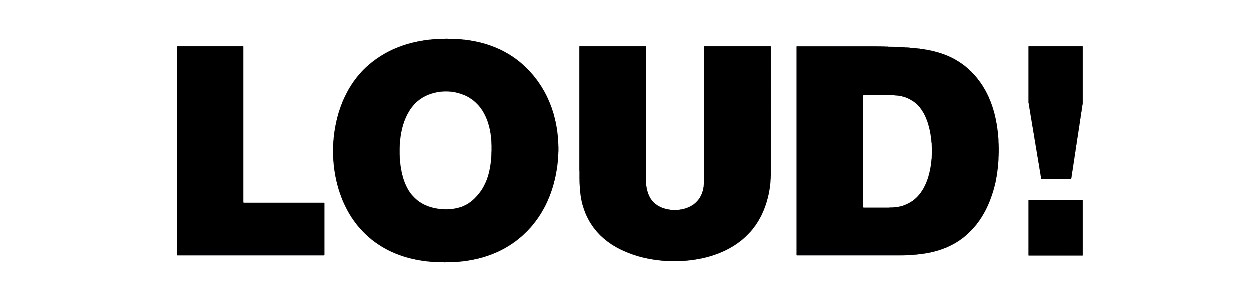Em antecipação ao muito aguardado regresso dos YES a Portugal, estivemos à conversa com o baixista Billy Sherwood.
Na sequência do cancelamento de toda a Relayer 2023, o regresso dos YES a Portugal sofreu um quinto adiamento. Felizmente, a 6 de Dezembro de 2023, quase oito meses depois, surgiu por fim a notícia do reagendamento deste muito aguardado regresso dos músicos britânicos a solo luso, agora inserido na digressão The Classic Tales Of Yes e apontado para o próximo dia 30 de Abril, no Sagres Campo Pequeno.
Em jeito de antevisão, a LOUD! esteve recentemente à conversa com o baixista Billy Sherwood e quis saber não só o que os fãs podem esperar deste concerto, mas também como «Tales From Topographic Oceans» está relacionado com o Star Wars e qual é o tema mais complicado de tocar ao vivo. Podes ler sobre tudo isto, e muito mais, em baixo.
A digressão The Classic Tales of Yes vai começar em Portugal, no próximo dia 30 de Abril. O que podemos esperar do espectáculo?
Vai ser uma mistura de muitos clássicos dos YES, que vão desde o início da carreira da banda até ao momento em que estamos. O alinhamento está repleto de faixas fantásticas, música agradável e algumas coisas muito desafiantes de tocar ao vivo. [risos]
Com o vasto catálogo que os YES já têm, deve ser um pesadelo escolher que canções vão tocar… Por um lado, temos os fãs que querem ouvir certos temas, mas, por outro, vocês também devem ter as vossas preferências. Como chegam a um acordo para escolher o alinhamento?
Bem, geralmente o Steve [Howe, guitarrista] pega no leme e faz uma lista de músicas com as quais se sente bem e, depois, passa-a à banda. E nós temos tendência a concordar com as escolhas dele porque, como disseste, o catálogo é tão vasto e bonito que…
Não há uma música no catálogo dos YES que possa dizer que não quero tocar. No entanto, isso leva-nos sempre a sugerir outros temas também e, depois, é só uma questão de chegarmos a um consenso e seguirmos em frente.
No entanto, às vezes, a forma como alguns temas podem entrar no set é engraçada. Na última tour tocámos a «Silent Wings Of Freedom» numa versão editada, mas isso aconteceu porque eu queria mesmo tocá-la e não a conseguia incluir no alinhamento. Comecei a tocar apenas o início do tema no soundcheck, depois o Jay [Schellen, baterista] juntava-se a mim e, eventualmente, o Steve tocava um bocadinho, olhava para mim e sorria. E acabou por ficar. Na verdade, somos atraídos pelos mesmos gostos.
Nesta tour também vão dar uma atenção especial ao clássico «Tales From Topographic Oceans», mas, como se tratam de temas de 20 minutos, vão tocar um medley, correcto?
Sim. Como não podíamos tocar os quatro, porque demoraria obviamente muito tempo, o Steve tomou uma vez mais o leme e apresentou uma versão editada, em que juntou partes dos quatro lados do disco. Assim, temos esses momentos icónicos, que todos nós conhecemos e adoramos e sem os quais não podemos viver, reunimos numa peça musical de 20 minutos.
Acaba por ser algo novo, mas muito familiar… E cria um mashup de histórias, por isso funciona muito, mesmo muito bem. Acho que os fãs vão adorar. Adoro tocá-la e ver as reacções do público quando sei que estão a chegar as curvas fazemos. É como se estivéssemos a ver o Star Wars e o Darth Vader dissesse: ‘Luke, eu sou o teu…’ – e depois cortassem para a cena da cantina ou algo do género. [risos]
Falaste de algumas faixas que são obviamente desafiantes. Para ti, enquanto baixista, qual é o tema mais difícil de tocar ao vivo?
Bem, os YES têm imensos temas que são muito, mesmo muito, desafiantes… A boa notícia é que tive uma vantagem inicial, porque toquei todos esses discos quando tinha 14, 15 anos e, por isso, mergulhei no catálogo e acabei por dissecar a fundo tudo o que o Chris fez, porque gostava muito do trabalho dele. Dito isto, a única coisa que nunca tinha tocado até esta digressão recente era a «Turn Of The Century», do «Going For The One».
É uma parte de baixo muito delicada, com muito movimento, e cada nota tem de ser exactamente assim para que a estrutura de acordes funcione. Não há margem de erro. Há muita coisa a acontecer e, apesar de ser bastante simples, a parte do baixo é muito complexa e tornou-se um desafio. Normalmente, sento-me, começo a tocar e passo por um monte de coisas num dia. Esta canção em particular levou-me sete dias a decifrar de uma forma que me permitisse começar a tocá-la, por isso, estranhamente, teria que dizer «Turn Of The Century».
Tens estado na banda durante os últimos anos, mas muito do material que tocam é mais antigo. Como abordas a forma de tocar? Gostas de ser fiel ao que foi tocado originalmente? Há espaço para colocares a tua própria impressão digital?
Toco dentro das linhas para ter a certeza que, quando olho para o público, eles não estão a pensar que eu devia ter tocado isto e não aquilo. Tenho uma noção de onde isso tem de acontecer mas, da mesma forma, sei que, dentro de todas essas linhas, posso ofuscar algumas aqui e ali e fazer a minha própria coisa e acrescentar o meu próprio estilo.
Isso acontece porque não sou o Chris. Nos momentos em que ele estava a improvisar da mesma forma, isso acontecia porque olhava para as coisas da mesma maneira que eu olho. Tivemos muitas conversas sobre isso e ele dizia-me que havia espaço para fazermos as nossas coisas, mas que temos de manter a ordem dentro disso, senão não funciona.
De certa forma, essa é uma das coisas mais bonitas da música progressiva – esse espaço para a improvisação, que é algo que não se vê muito nas bandas mais novas.
Pois, eu sei. O rock progressivo, o jazz, a fusão, são formas de arte. Foi exactamente por isso que sempre me senti atraído por esses géneros… Podíamos realmente exprimir-nos e tocar melodias, enquanto nas bandas de rock normais, por falta de expressão melhor, os baixistas normalmente resignavam-se a seguir as notas de raiz dos acordes da guitarra.
Mesmo que estejam atocar solos rápidos, estão mais ou menos em uníssono. Isso foi algo que nunca me atraiu, nunca me senti inspirado a querer seguir esse caminho, porque queria ter a minha própria voz numa canção.
Por exemplo, as linhas de baixo do Colin Moulding, dos XTC, são realmente únicas dentro dos temas… E há muitas outras bandas que fazem isso, como os King Crimson ou os Genesis. Sempre me senti atraído por isso e é a área onde ainda se pode definir uma estrutura na composição, mas depois há espaço para respirar e ter algum movimento.
Eu costumava tocar guitarra, mas nunca me consideraria um músico. No entanto, uma das coisas que me marcou profundamente no prog e no metal, foi o facto do baixo ter a sua própria voz; às vezes, fico aborrecido quando estou a ouvir uma banda e não consigo ouvir distintamente o som do baixo.
Bem, essa é outra coisa que sempre adorei nos YES! A alta qualidade e o tipo brilhante de agudos, os 6K dos sons de tudo o que é baixo, as cordas, a vibração.
Há muitas bandas do género que podia citar isso onde se ouve tudo. No entanto, é verdade que a maior parte delas vive neste domínio do progressivo, porque o guitarrista de uma banda de rock não quer saber. Basta o baixista segui-lo e, sobretudo, estar debaixo dele. Eu queria ter mais direitos do que isso como músico. [risos]
Se conseguirmos fazer com que tudo funcione, essa é a beleza da música. Olha um baixista como o Billy Sheehan, por exemplo… Se estiver a tocar numa banda, temos de o ouvir, não é?
Claro! Também sou um especialista em som e trato do meu próprio equipamento, por assim dizer. Não tenho um técnico que desenha o meu material, pego no baixo e percebo que as coisas soam bem ou não. Sento-me e articulo os meus sons, o que me consome bastante tempo entre os meus pedais da Line 6 e a consola que tenho na minha rack.
Portanto, articulo o som de forma a que, quando sai das colunas, soe como quero. E esse conceito traduz-se para o engenheiro de som ao vivo, que respeita o que faço e eu respeito-o a ele, que é quem leva esse som ainda mais longe.
Mencionaste o teu equipamento e, hoje em dia, amplificadores digitais como os Kemper estão a tornar-se cada vez mais populares. No entanto, especialmente em clubes mais pequenos, se não há colunas ou amplificadores em palco não se ouve nada se estivermos na fila da frente.
Bem, isso é interessante do ponto de vista científico, porque num clube pequeno não há espaço para um PA desenvolver o som. Portanto, estamos mais ou menos por nossa conta. Quando era miúdo e andava sempre a tocar em Los Angeles, percebi que há que ter um compromisso entre o volume do amplificador em palco e o do PA.
Numa sala com 5000 lugares, os amplificadores não vão conseguir projectar-se além da zona que está mesmo à nossa frente, por isso o PA é mesmo muito importante. Portanto, tem de haver um equilíbrio para as pessoas que só querem usar o digital e passar o som por um PA num clube pequeno, mas parece-me que, nesse domínio, a ciência ainda não funciona muito bem.
E tu, gostas de ter os amplificadores e sentir o som a passar-te pelo corpo?
Sim, tenho um equipamento maravilhoso com amplificadores e colunas tech 21 atrás de mim e mantenho-os num volume que me dá o que preciso de sentir. No entanto, como estou perto do meu microfone de voz, se o equipamento estiver demasiado alto – e eu uso in-ears para fazer a mistura à minha medida – o meu próprio som pode a anular a voz.
Ao longo destes muitos anos, trabalhando com os in-ears e passando por muitos palcos, descobri onde está esse equilíbrio. Na verdade, tenho um iPad no meu suporte de microfone que é um misturador para os in-ears, por isso controlo a minha própria mistura. E soa como um disco sempre que entro no palco, porque tenho tudo controlado. É um prazer tocar todas as noites, porque é como se estivéssemos a ouvir um dos nossos álbuns preferidos e estivéssemos dentro dele. É o céu!
Mais alto nem sempre é melhor?
Agora fizeste-me pensar na minha primeira banda, os Logic. Costumávamos ensaiar ao lado dos Toto, mesmo antes serem contratados. Um dia, o David Paich, o teclista deles, veio ouvir o nosso ensaios disse que soávamos muito bem, mas tocávamos demasiado alto.
Aconselhou-nos a baixar o volume, a encontrar um equilíbrio no palco com base no hi-hat. Disse-me: “Começa a aumentar o teu baixo, mas não percas o hi-hat.” Isso fez com que o palco se tornasse um fio condutor, foi aí que encontrámos esse equilíbrio fantástico e isso ficou enraizado na minha cabeça.
Falaste de ensaios e pergunto-me se precisam de tocar muito para saberem bem as músicas…
Já fizemos este alinhamento em digressão, por isso foi mais difícil da primeira vez que o fizemos. O medley do «Tales From Topographic Oceans», com os novos arranjos, foi complicada porque estou tão habituado a tocar essas faixas que foi difícil “desprogramar”. Tive de fazer várias tabelas, linhas coloridas com as mudanças e todo esse tipo de coisas. Agora que o fizemos, tenho estado no meu quarto a ouvir as actuações ao vivo para pôr as minhas coisas em ordem.
Às vezes pergunto-me como é que os músicos que têm outros projectos se lembram de tudo quando voltam à sua banda principal. É memória muscular?
Sim, é interessante que tenhas mencionado isso. Uma das formas de refrescar a memória quando estou afastado do instrumento há mais tempo do que devia é conhecer as notas, a sequência, a forma como funcionam. No entanto, podemos tocar a mesma coisa num instrumento em seis posições diferentes, por vezes, e a ergonomia das posições é onde a memória muscular entra em acção. É por isso que vejo vídeos nossos ao vivo e, quando agarro de novo no baixo, volta tudo. A memória muscular é uma parte muito importante de tudo isso.
«Mirror To The Sky», o mais recente longa-duração é um excelente disco. Consideras que ainda é importante para uma banda fazer álbuns?
Sim, especialmente para os YES, porque os fãs, tal como eu, querem que a banda continue. Há um punhado de pessoas que dizem que eles deviam ter parado quando o Chris morreu, mas discordo completamente. Ele disse-nos: “Por favor, não parem. Continuem em frente e façam com que esta banda avance.” E fazer música nova é uma parte essencial disso. Somos todos muito criativos e somos todos compositores, por isso não há falta de ideias.
Acho que, quando perdemos o Chris, não havia maneira de fazermos um disco logo a seguir. Não era correto, teria sido muito desrespeitoso. À medida que as coisas se vão resolvendo, fizemos as coisas no momento que nos pareceu acertado, e foi por isso que iniciámos a composição do «The Quest». Agora que atingimos um ponto forte no desejo de criar e todos gostamos uns dos outros, o que é uma coisa única nos YES [risos], queremos continuar e gravar mais discos. E porque não? Os fãs apreciam-no, e nós temos o desejo de criar e fazer acontecer, por isso os novos discos são definitivamente algo que considero ser um passo importante para esta banda.
Quando se trata do processo de composição, as coisas funcionam à moda antiga? Juntam-se numa sala, improvisam ideias e trabalham-nas?
Começámos o processo de composição do «The Quest» durante a pandemia e nunca tinha havido uma época assim na nossa geração. Isso exigiu que, mesmo que quiséssemos reunir-nos, não podíamos, legalmente. Foi um tempo de loucos. Por isso, partilhávamos todas as ideias através de ficheiros. Todos sabíamos como trabalhar com uma bateria electrónica e, pelo menos, começámos a fazer esboços de algo. Trocámos ideias uns com os outros e foi assim que esse disco surgiu.
Quando a pandemia terminou , eu ainda estava a viver nos Estados Unidos, por isso não era muito viável vir à Europa gravar e habituámos a fazer discos assim. Dito isto, agora que temos 4/5 do grupo a viver no mesmo continente, vejo-nos a voltar ao estúdio no futuro. Eu vou e volto entre os Estados Unidos, mas os restantes elementos estão cá, por isso gostaria estar com eles numa sala, a partilhar a experiência. Foi assim que fizemos no «The Ladder». Foi a última vez que fiz algo do género e acho que resultou muito bem. Foi um disco muito interessante e bem recebido.