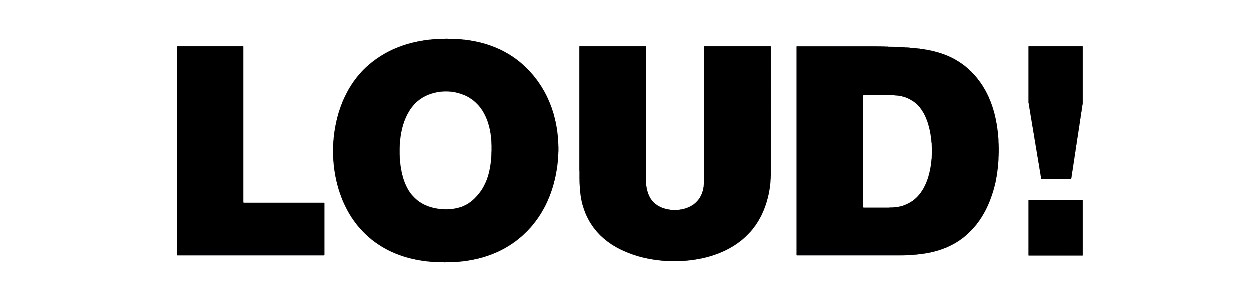Uma coisa é certa: independentemente da opinião que se tenha em relação à banda de Oslo, não há dúvida que são já um nome incontornável no espectro da música pesada.
Desde que surgiram, os noruegueses DIMMU BORGIR tornaram-se uma daquelas bandas que não permitem que ninguém se mantenha indiferente em relação ao que fazem. Quem gosta deles demonstra uma paixão avassaladora, quem os odeia também não consegue esconder uma certa visceralidade quando se trata de analisar tudo o que fizeram até aqui. Vistos por alguns como criadores de tendências, são vistos por outros tantos como posers, traidores do que o black metal “deveria ser”. Uma coisa é certa: independentemente da opinião que se tenha em relação à banda de Oslo, não há dúvida que são já um nome incontornável no espectro da música pesada. Foram, de resto, eles que puseram o black metal no mapa, levando-o a um público mais vasto e, se para alguns isso é blasfémia, para eles tem sido mesmo só business as usual. Sobre uma carreira que já atingiu a marca do quarto de século de existência e um desejado regresso a Portugal, para uma actuação no VAGOS METAL FEST 2022, tivemos uma esclarecedora conversa com o guitarrista Silenoz.
De que forma é que esta pandemia veio afectar os procedimentos em relação aos Dimmu Borgir?
Para ser sincero, não mudou grande coisa. Felizmente, acho que neste caso posso mesmo dizer isso, só tínhamos dois festivais agendados para o Verão de 2020, o Graspop na Bélgica e o Tons Of Rock, aqui na Noruega. Ambos foram adiados, por isso aproveitámos para marcar mais algumas datas, como a do Vagos Metal Fest, em Portugal. De resto, no que toca à banda… Está tudo normal, uma vez que estamos a passar por mais um período de acalmia. Em termos pessoais, ficou mais ou menos tudo na mesma, porque, quando estou em casa, sou um tipo bastante reservado. É lógico que gosto de ir ver uns concertos de vez em quando e estar nos copos com os amigos, mas tento resguardar-me o máximo possível, trabalho em ideias novas, vou tocando guitarra… E, basicamente, foi o que fiz no período da pandemia. Foi aborrecido não podermos viajar, não gosto nada que me digam o que devo ou não fazer, mas pronto… [risos] Não havia volta a dar.
O «Eonian» foi lançado há três anos e meio. Como olhas para o álbum hoje em dia? Continuas tão orgulhoso como quando foi lançado?
É curioso porque, quando o álbum foi editado, para nós esses temas já eram um bocado antigos. A data de lançamento foi adiada quase um ano, por isso tivemos tempo mais que suficiente para viver com aquele material. Talvez demais, até. Mesmo assim, acho que as canções envelheceram muito bem e continuam a manter a magia que tinham quando as gravámos. Lembro-me que as primeiras reacções ao disco não foram consensuais, alguns fãs gostaram de uns temas e odiaram outros, mas acredito que estes dois anos e meio possam ter servido para mudarem de opinião. O «Eonian» não é um álbum imediato, não é um álbum fácil, acho que não é um daqueles discos que se consigam absorver logo às primeiras audições, por isso a passagem do tempo pode ter sido bastante benéfica.
Há discos assim, de facto. Discos que crescem com a passagem dos anos.
Sim, alguns dos meus álbuns favoritos demoraram algum tempo a crescer. Outros houve que me conquistaram logo à primeira e que, muito provavelmente, vão ficar comigo para o resto da vida, mas… A música é subjectiva e nós temos perfeita noção disso. A música está sujeita à interpretação de quem a ouve, por isso é natural que as reacções sejam extremadas. No caso dos Dimmu Borgir é lógico que, quando estamos a fazer um álbum, não planeamos se vai ser de audição mais imediata ou não, só no final é que conseguimos ter essa perspectiva. No entanto, uma coisa é certa: jamais lançaríamos algo com que não estivéssemos 100% satisfeitos e o «Eonian» não foi uma excepção à regra. Nós temos mesmo de estar confortáveis com a música que pomos no mundo, porque isso é a única coisa que depende apenas de nós. Quando o álbum está disponível para as pessoas ouvirem, vai haver quem goste mais, quem goste menos, quem adore e quem odeie – e isso é natural.
Demoraram quase uma década a fazer o «Eonian». Quando podemos esperar um sucessor?
Espero, muito sinceramente, que ninguém tenha de esperar oito anos outra vez. [risos] Eu próprio não quero estar tanto tempo sem editar música nova, a sério. Neste momento já demos início ao processo de composição para o próximo álbum, por isso não penso que vá demorar assim tanto tempo. O «Eonian» foi escrito durante vários anos, nunca estivemos propriamente parados. Habitualmente, quando terminamos o ciclo de um disco, tiramos um tempo da banda e uns dos outros. É algo que já percebemos que temos de fazer, para o bem de todos, digamos assim. E entre o «Abrahadabra» e o último álbum, tirámos um time off maior que nunca e esse foi, sem qualquer dúvida, o período mais longo de toda a nossa carreira que passámos sem editar música nova. Desta vez, queremos que as coisas aconteçam mais rapidamente e decidimos aproveitar a pandemia para começar a trabalhar na composição de temas novos.
Podes levantar um pouco o véu em relação ao que se pode esperar de um novo álbum dos Dimmu Borgir?
Ainda estamos no início do processo, por isso ainda é cedo para conseguir ter uma ideia concreta do que pode sair dali. Neste momento, pelo menos, sinto que as ideias com que temos estado a trabalhar apontam para uma abordagem um pouco mais back to basics… A verdade é que, separadamente, entre mim e o Shagrath, temos mesmo muito material por onde escolher, por isso… As coisas ainda podem mudar, por isso vou-me calar. Não me quero estar a comprometer com seja o que for numa altura em que ainda está tudo num estado muito embrionário.
Mencionaste o facto de, entre os dois, terem muitas ideias. Para ti, a inspiração alguma vez foi um problema?
Estranhamente, não. E é curioso porque, no que toca aos Dimmu Borgir, também nunca passámos por um período de falta de inspiração. Temos períodos em que as ideias acabam por não fluir da mesma forma mas, entre os dois, há sempre material mais que suficiente, portanto… Nunca nos vimos confrontados com uma situação de aperto. O nosso desafio, na verdade, é sempre decidir quais são as ideias que merecem ser realmente exploradas e quais devem ser postas de parte.
Falaste em desafios… Existe uma vontade intrínseca de se irem superando a vós próprios a cada novo registo que fazem?
Sim, claro. Acho que isso é natural para qualquer músico. Por esta altura, já temos mais de 25 anos de carreira, por isso temos de olhar mais analiticamente para o que fazemos, porque não queremos estar a copiar-nos a nós próprios demasiado. Quer dizer, acho que é praticamente impossível não nos copiarmos, mas temos de traçar uma linha para que não comece tudo a soar previsível demais. Acho que é por isso que gostamos de estar sempre três ou quatro anos sem lançar música nova, esses períodos permitem-nos respirarmos e a inspiração acaba por fluir de forma diferente. De certa forma, é como se estivéssemos a sempre a começar de novo.
Imagina que, durante o processo de composição do próximo álbum, acabavas por criar uma melodia que te recordava algo que fizeram, por exemplo, num disco como o «Stormblåst». Seria imediatamente posta de lado?
Tudo depende. Houve momentos, no passado, em que pusemos ideias de parte só porque nos remetiam para isto ou aquilo, talvez sem razão, mas hoje em dia já não somos assim tão radicais. Há muita coisa que podemos fazer para evitar isso, basta alterar o tempo, mudar a tonalidade ou até uma batida – isso são tudo coisas que podem alterar um tema profundamente e são o que basta para o levar noutra direcção. Portanto, se criar algo que me recorde o «Stormblåst» ou qualquer outra coisa que tenhamos no passado, se a ideia for realmente boa, vou tentar dar-lhe a volta para criar algo um pouco diferente. É lógico que, se analisarem tudo o que fizemos até aqui, se escalpelizarem cada um dos temas que gravámos, vão encontrar padrões e semelhanças aqui e ali, sem dúvida. No entanto, na generalidade, tentamos não nos repetir e trabalhamos apenas com ideias novas.
E, mesmo assim, têm conseguido manter o vosso ADN intacto.
Sim, acho que se pode dizer isso, de facto. Não é algo com que estejamos preocupados de forma consciente ou algo desse género, mas é algo difícil de evitar. Acho que sentimos necessidade de manter uma linha condutora em tudo o que fazemos, tem sido assim desde o início. As melodias, a mistura de ambientes melancólicos com outros mais épicos e poderosos, é isso que faz os Dimmu Borgir serem realmente o que são. Há uma linha muito ténue entre todas essas atmosferas e, feitas as contas, para nós a atmosfera é o mais importante. É o que queremos criar, atmosfera; a forma como chegamos lá acaba por ser um bocado indiferente.
O facto de terem projectos paralelos ajuda-vos a manter a identidade intacta?
Sem dúvida! Às vezes damos por nós a explorar ideias que são, de facto, muito fixes, mas que não encaixam exactamente no contexto dos Dimmu Borgir. E claro, o facto de termos projectos paralelos facilita bastante as coisas, porque ninguém vai estar ali a perder o seu tempo com algo que, pura e simplesmente, é cool, mas não vai fazer sentido num disco dos nossos. Dependendo de quem as apresentou, são ideias que acabam quase sempre por ser usadas em álbuns dos Chrome Division, Insidious Disease ou Old Man’s Child. É, de resto, para isso que essas bandas servem, para podermos explorar outros interesses.
Como disseste no início desta conversa, no próximo ano vão finalmente voltar a Portugal depois uma longa ausência.
Não tenho bem a certeza, mas acho que a última vez que tocámos em Portugal foi mesmo em 2010… O que, bem vistas as coisas, já foi há mais de dez anos. É incrível como, à medida que vamos ficando mais velhos, o tempo parece que passa mais depressa. Acho que primeira vez que aí tocámos foi em 1997, numa das várias digressões europeias que fizemos com o «Enthrone Darkness Triumphant» e sempre fomos acarinhados pelo público português, por isso não há sequer uma razão lógica para termos estado ausentes tanto tempo. O que se passa é que nós, na verdade, não temos grande controlo no que toca aos sítios em que tocamos em tour – quem decide esse tipo de coisas são os nossos managers e os agentes locais, por isso não nos adianta de muito andar a chateá-los para tocar aqui e ali. Basta que não haja uma proposta viável ou que, depois, as negociações acabem por não chegar a bom porto para que as coisas não aconteçam, como parece ter sido o caso. No entanto, vai ser muito bom estar de volta a Portugal – sem dúvida.
Vão então encabeçar o Vagos Metal Fest ao lado dos Emperor, que são outro dos grandes expoentes do black metal norueguês. Quão fixe é constatar que, tantos anos depois, as duas bandas continuam no activo e a tocar ao vivo?
Vai ser uma ocasião muito especial, sem dúvida. O legado dos Emperor é muitíssimo vasto e, apesar de terem deixado de fazer música nova há anos, é óptimo ver que se juntam de vez em quando para tocar ao vivo e manter o nome vivo, sobretudo porque houve muita gente que não teve oportunidade de os ver durante os anos 90. O Ihsahn já disse várias vezes que considera que não faria sentido tentar escrever um novo álbum com os Emperor e eu tendo a concordar com ele, porque também não me arriscaria a manchar a reputação de uma banda tão lendária. Eles fizeram tanta música intemporal, assinaram álbuns tão marcantes e influentes que, de facto, não faz sentido estarem a arriscar para corresponder às expectativas dos fãs ou da indústria. Eu, no lugar dele, faria exactamente o mesmo.
Alguma vez imaginaste que, um dia, os Dimmu Borgir e os Emperor podiam ser cabeças-de-cartaz dos grandes festivais de metal por esse mundo fora?
Não, não acho que nenhuma banda, norueguesa ou de outro sítio qualquer, pensasse nas coisas assim durante os anos 90. Quando começámos a tocar juntos, quando eu e o Shagrath criámos os Dimmu Borgir, a única coisa que nos interessava era fazer música, nessa altura nada mais importava. Essa era a nossa paixão, éramos miúdos, tínhamos esta criatividade imensa e queríamos fazer a nossa cena mas, muito sinceramente, acho que nenhum de nós imaginava que o black metal se poderia transformar num fenómeno de massas ou na next big thing do metal. Quer dizer, o que estávamos a fazer era uma cena tão marginal, tão radical, estávamos tão embrenhados no underground, basicamente era impossível termos expectativas que fossem muito para além da nossa pequena cena local. Surpreendentemente, foi o acabou por acontecer, mas não… Acho que ninguém o podia ter previsto.